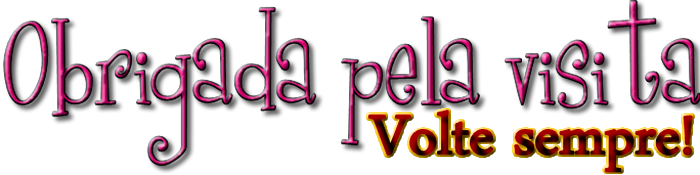
Global Social
Para quem gosta realmente de amizade, de aprender e adquirir conhecimentos
Global Social
Ler era um feitiço


A minha mãe lia-me livros todas as noites, sentada à beira da minha cama.
Ela era o rapsodo; eu, o seu público fascinado. O lugar, a hora, os gestos e os silêncios eram sempre os mesmos, a nossa íntima liturgia.
Enquanto os seus olhos procuravam o lugar onde tinha abandonado a leitura e depois recuavam umas frases para trás para recuperarem o fio da história, a suave brisa do relato levava todas as preocupações do dia e os medos intuídos da noite. Naquela altura, a leitura parecia-me um paraíso pequeno e provisório — depois aprendi que todos os paraísos são assim, humildes e transitórios.
A sua voz. Eu ouvia a sua voz e os sons da história que ela me ajudava a ouvir com a imaginação: o chapinhar da água contra o casco de um barco, o ranger suave da neve, o choque de duas espadas, o silvo de uma seta, passos misteriosos, uivos de lobo, cochichos atrás de uma porta. Eu e a minha mãe sentíamo-nos muito unidas, juntas em dois lugares ao mesmo tempo, mais juntas do que nunca, mas separadas em duas dimensões paralelas, dentro e fora, com um relógio que fazia tiquetaque no quarto durante meia hora e anos inteiros a passarem na história, sozinhas e ao mesmo tempo rodeadas de muita gente, amigas e espias das personagens.
Nesses anos, fui perdendo os dentes de leite, um a um. O meu gesto preferido enquanto ela me contava histórias era abanar um dente trémulo com o dedo, senti-lo desprender-se das suas raízes, dançar cada vez mais solto e, quando finalmente se soltava deitando uns fios de sangue salgados, colocá-lo na palma da minha mão para olhar para ele — a infância estava a quebrar-se, deixava espaços vazios no meu corpo e cacos brancos pelo caminho, e o tempo de ouvir histórias acabaria depressa, embora eu não soubesse disso.
E, quando chegávamos a episódios especialmente emocionantes – uma perseguição, a proximidade do assassino, a iminência de uma descoberta, o sinal de uma traição — a minha mãe pigarreava, fingia uma comichão na garganta, tossia; era o sinal combinado da primeira interrupção. Já não consigo ler mais. Então era a minha vez de suplicar e ficar desesperada: não, não fiques por aqui; continua mais um bocadinho. Estou cansada. Por favor, por favor. Interpretávamos a pequena comédia e depois ela continuava. Eu sabia que me enganava, claro, mas assustava-me sempre.
No fim, uma das interrupções seria a sério, e ela fecharia o livro, dar-me-ia um beijo, deixar-me-ia sozinha às escuras e dedicar-se-ia a essa vida secreta na qual os mais velhos vivem à noite.
O livro fechado ficaria em cima da mesa de cabeceira, calado e teimoso. E, embora eu abrisse o livro no lugar oportuno, assinalado pelo marcador, não serviria de nada, pois só veria linhas cheias de patas de aranha que se negariam a dizer-me uma mísera palavra. Sem a voz da minha mãe, a magia não se tornava realidade.
Ler era um feitiço, sim; conseguir que esses insetos estranhos pretos dos livros, que então me pareciam enormes formigueiros de papel, falassem.
Irene Vallejo
O Infinito num Junco – A Invenção do livro na Antiguidade e o nascer da sede de leitura
Lisboa, Bertrand Editora, 2021
(excerto)
Os comentários estão fechados para esta entrada de blog
-
 Comentário de Margarida Maria Madruga em 26 fevereiro 2022 às 22:40
Comentário de Margarida Maria Madruga em 26 fevereiro 2022 às 22:40 -
Ler é um feitiço. Magia dourada.
-
Comentário de Conceição Valadares em 20 fevereiro 2022 às 17:07
-
Belíssimo blog Adul.
-
Comentário de Elodina Nunes em 20 fevereiro 2022 às 15:30
-
Ola boa tarde meu querido amigo muito lindo este texto, obrigado beijosssss
Fale com os membros
Aniversários
Fazem aniversário Hoje
Fazem aniversário Amanhã
© 2026 Criado por Adul Rodri (Adm)
Produzido Por
![]()











